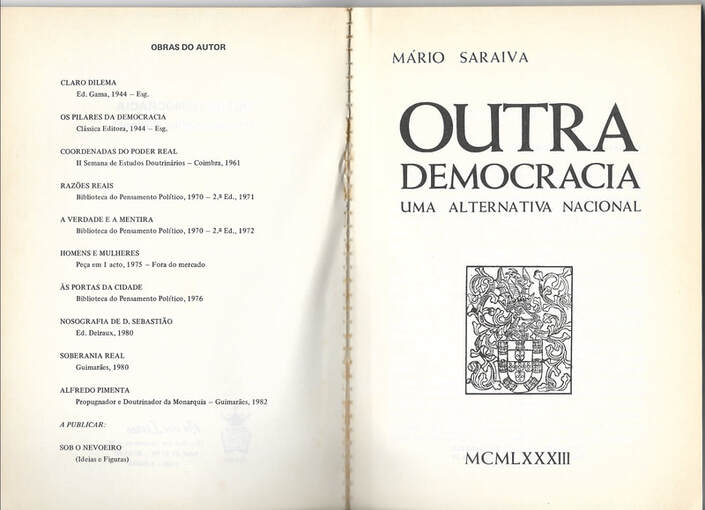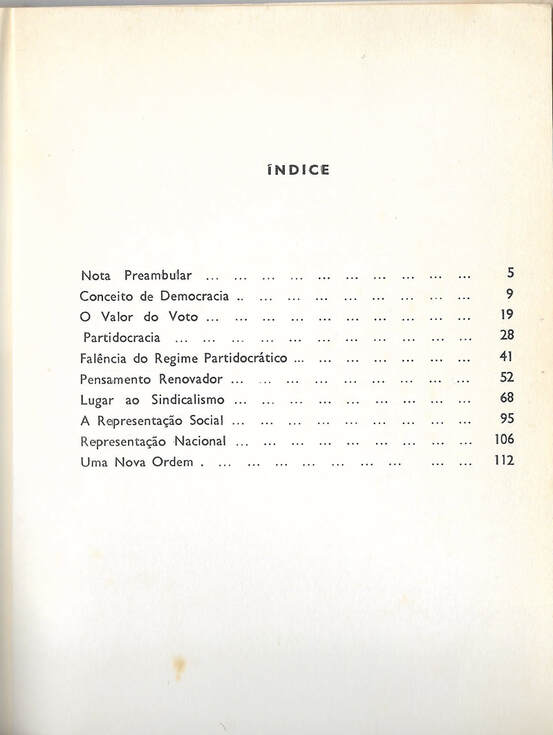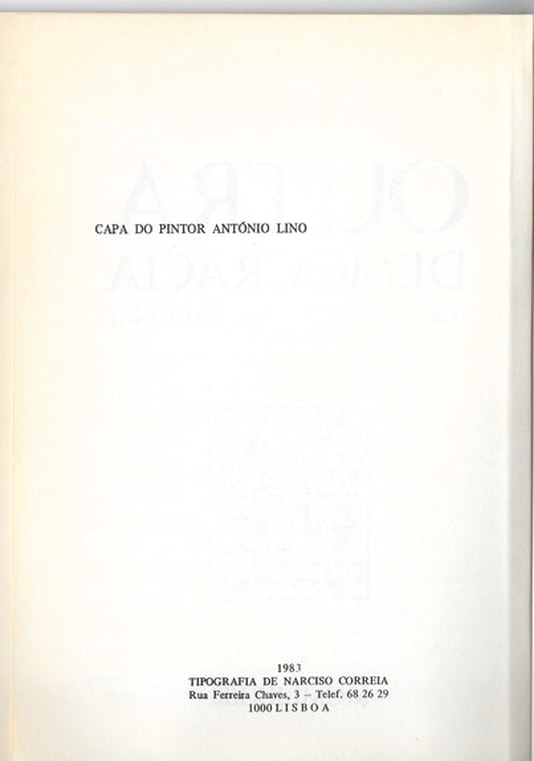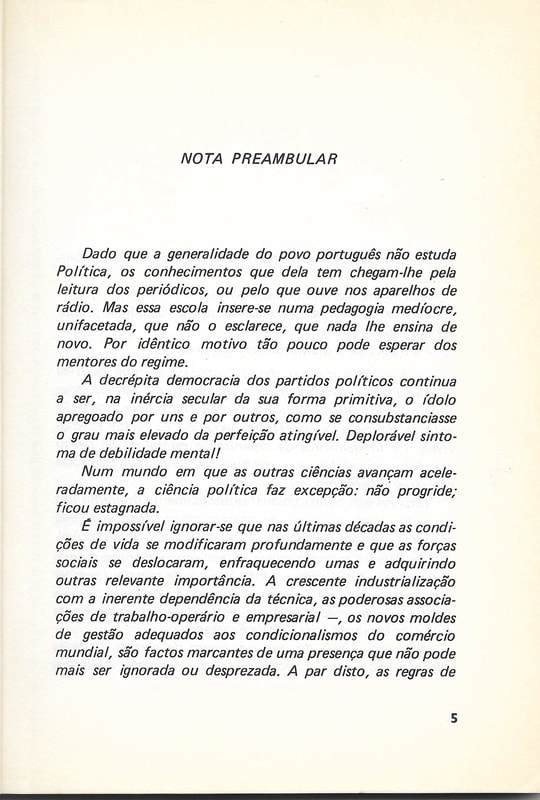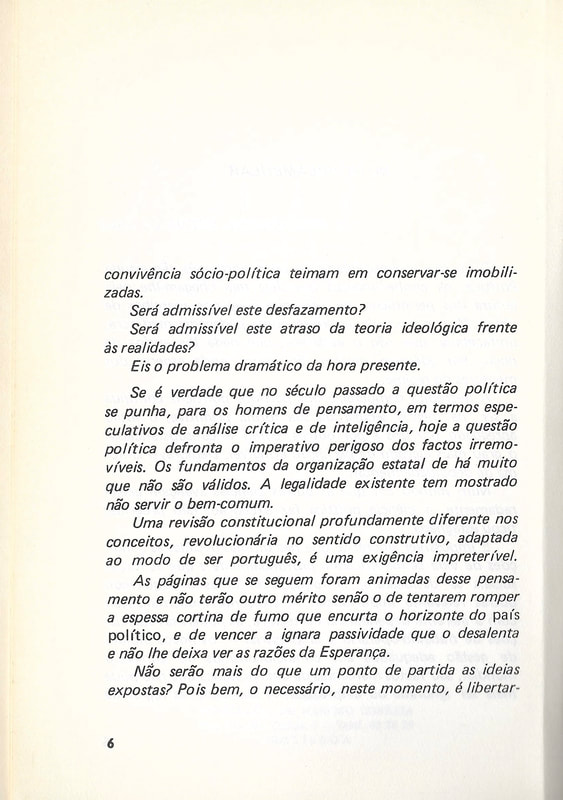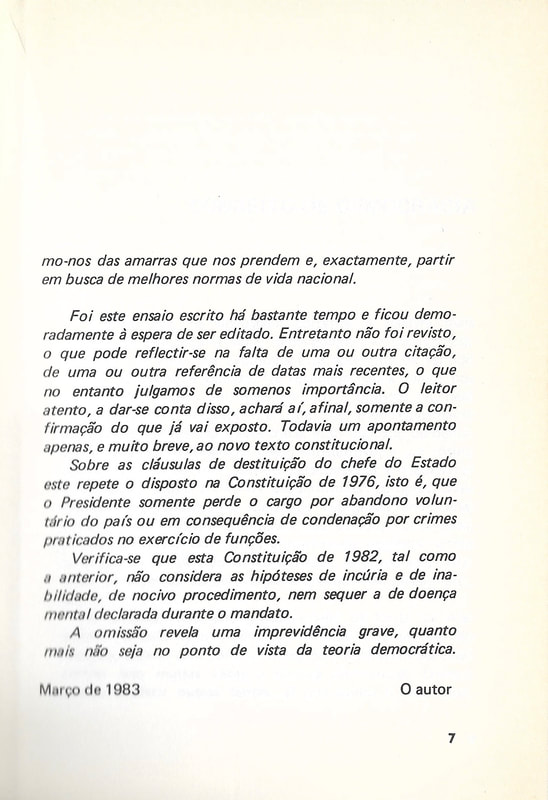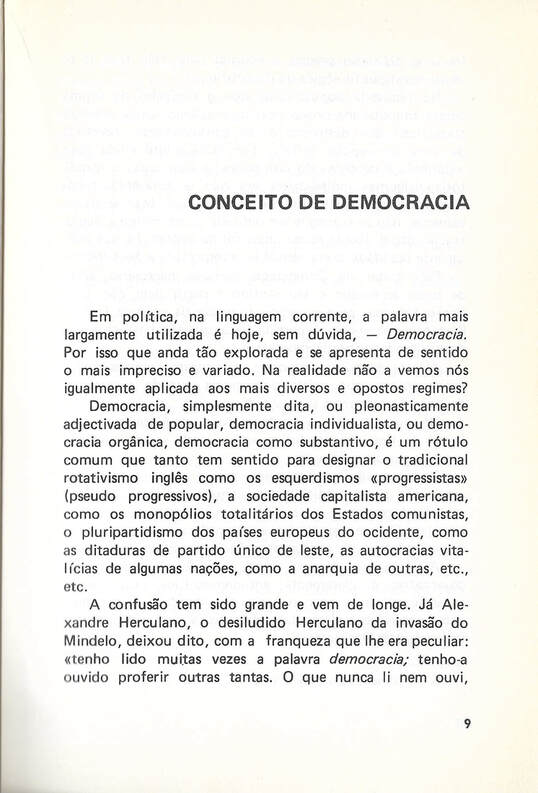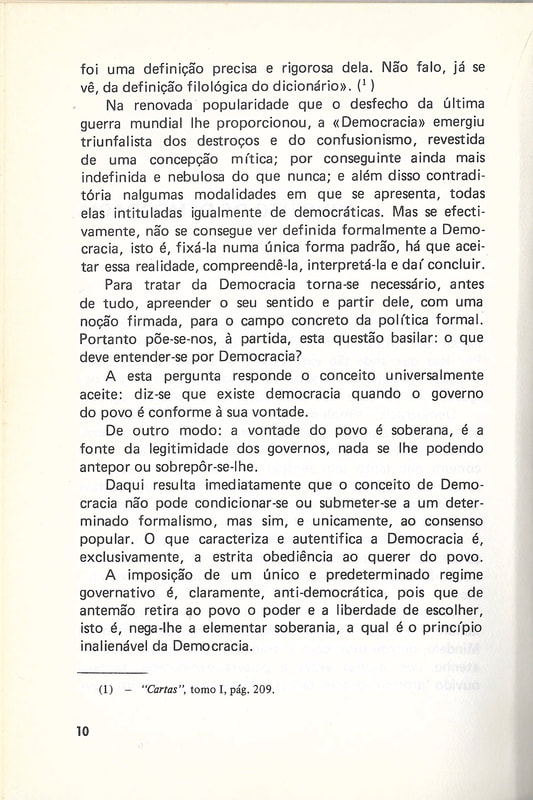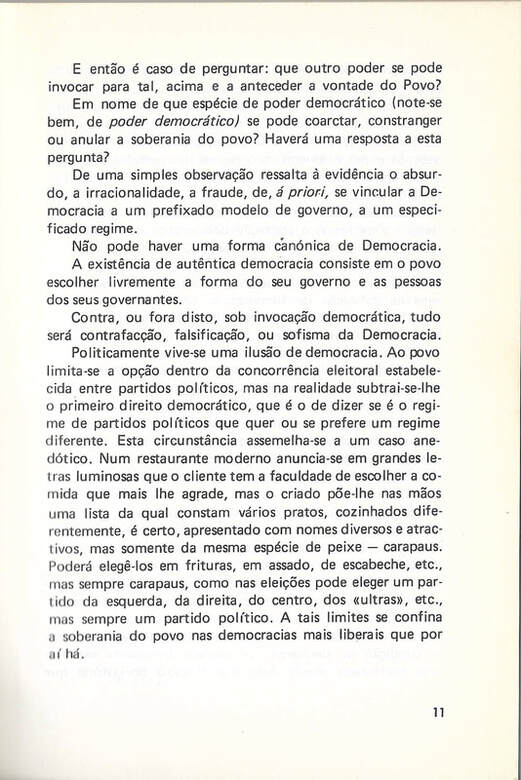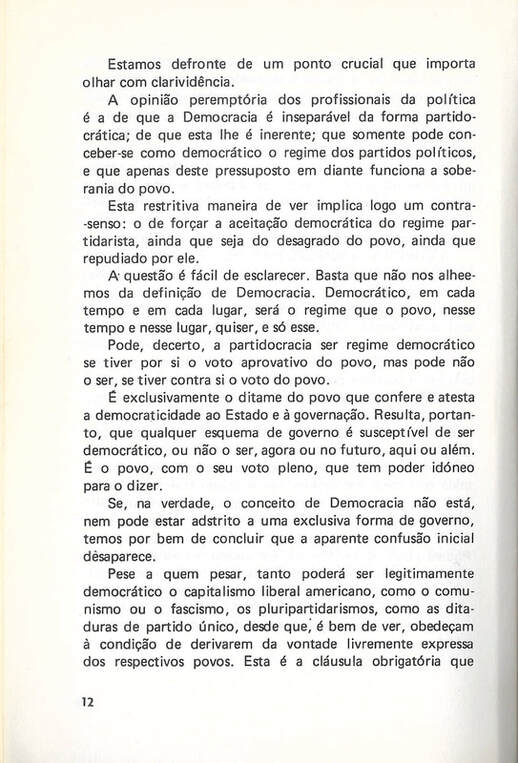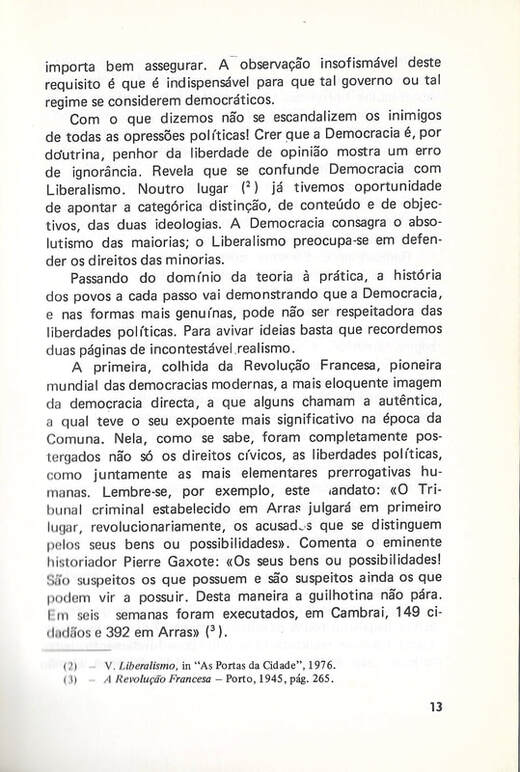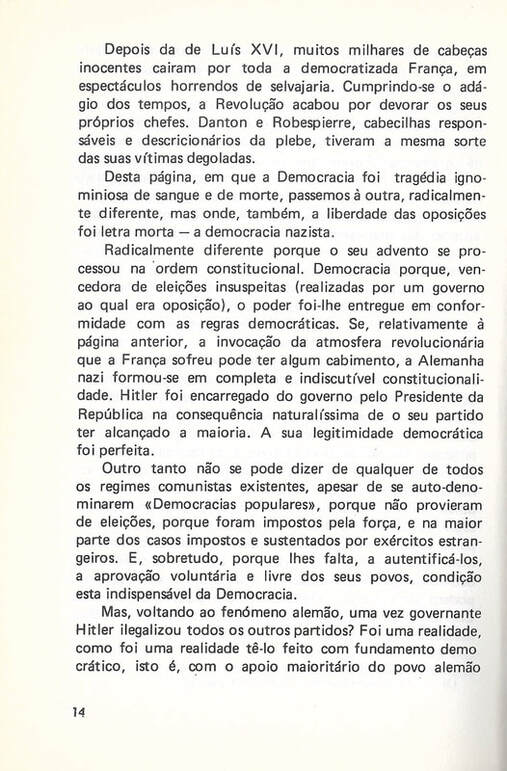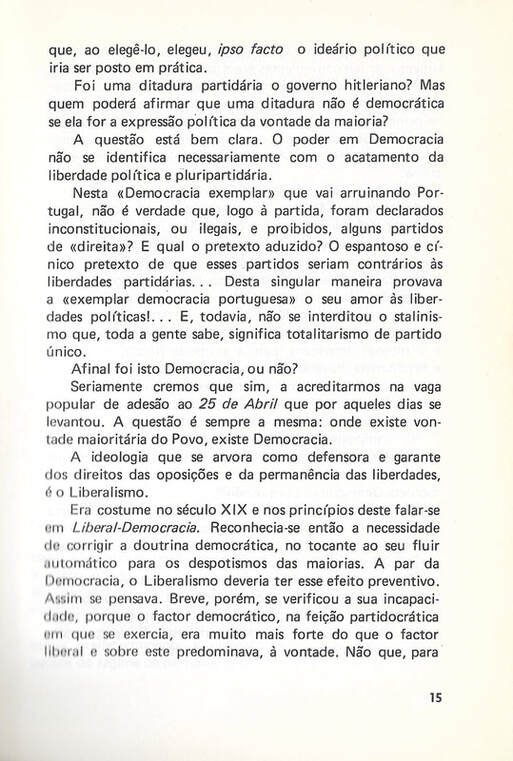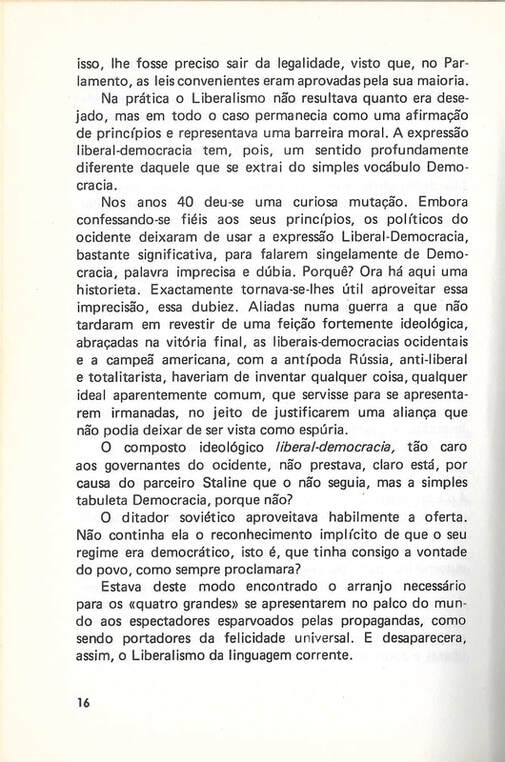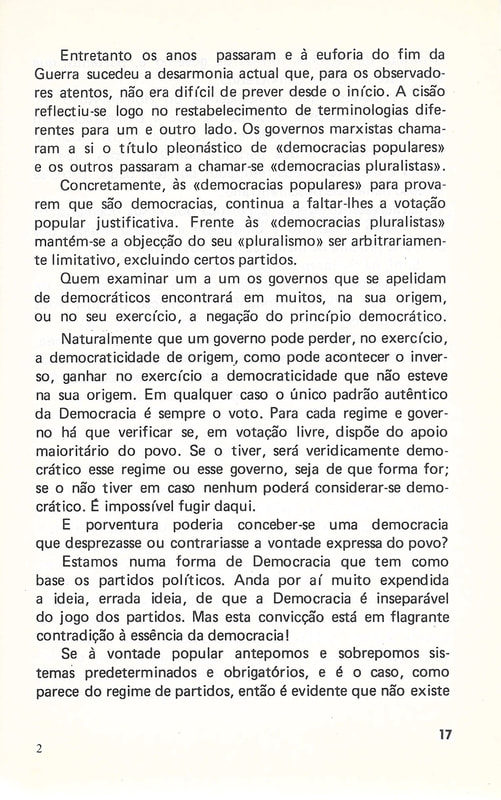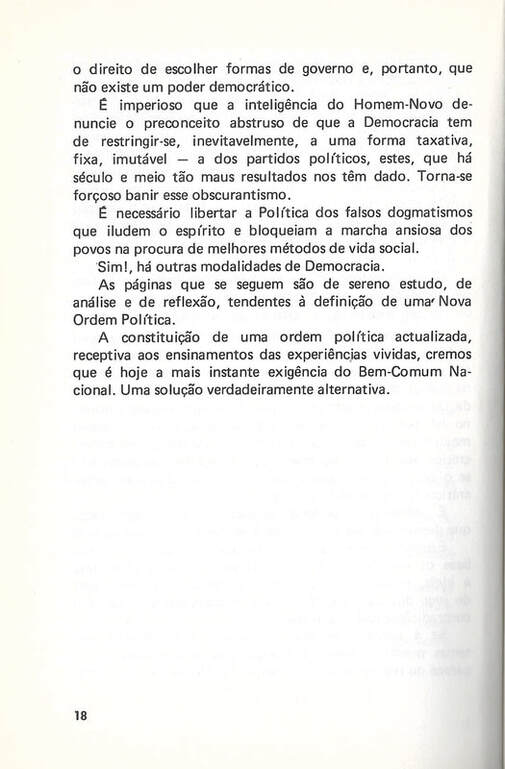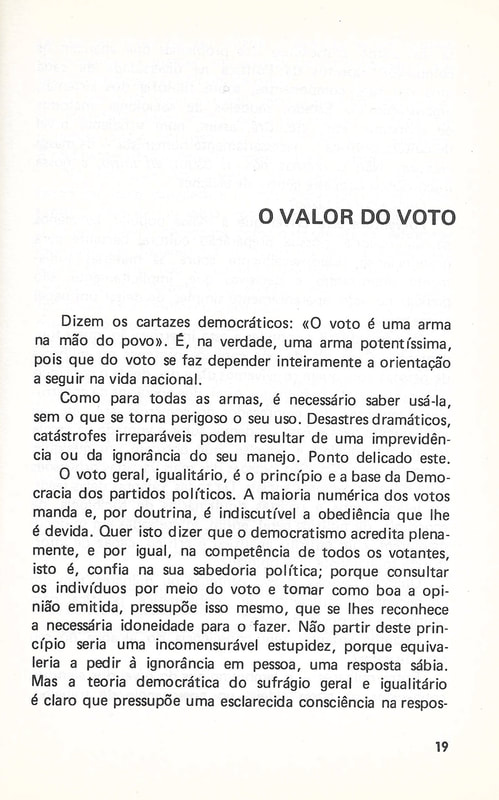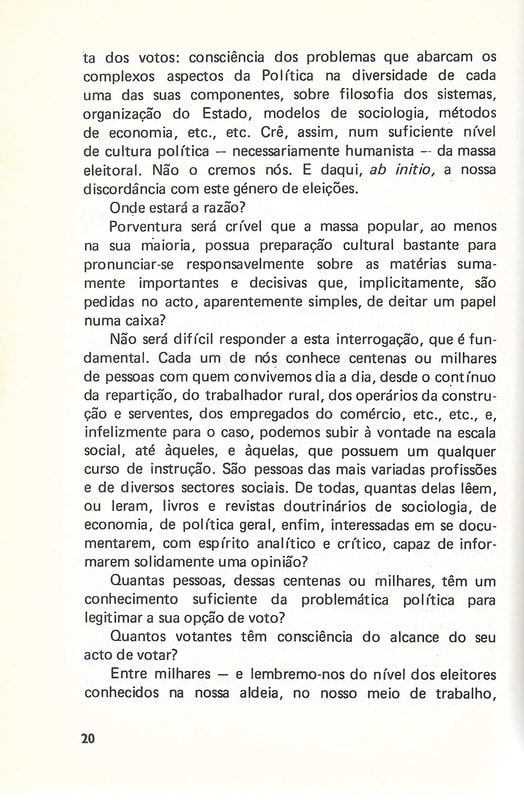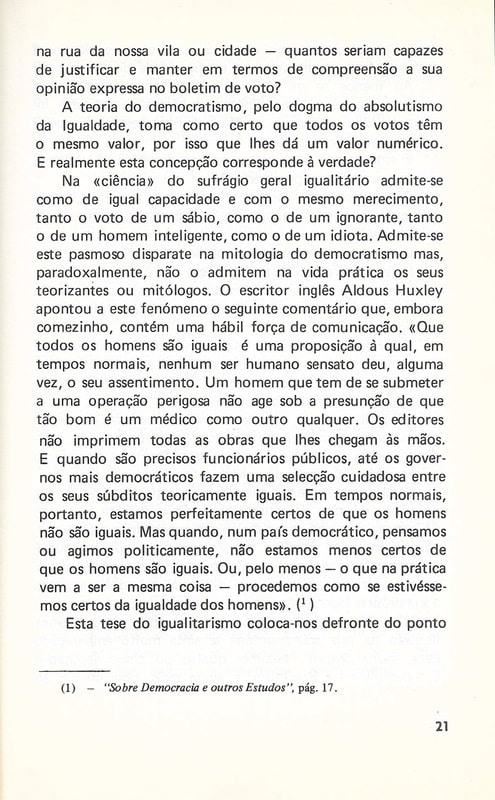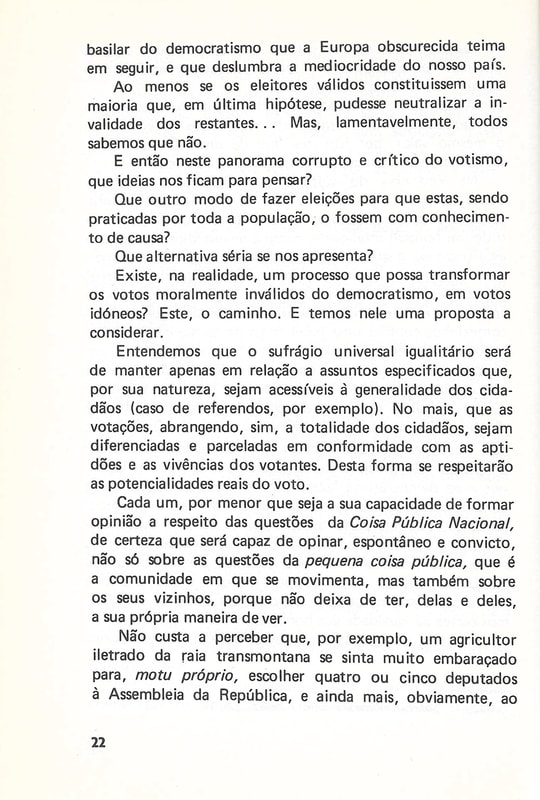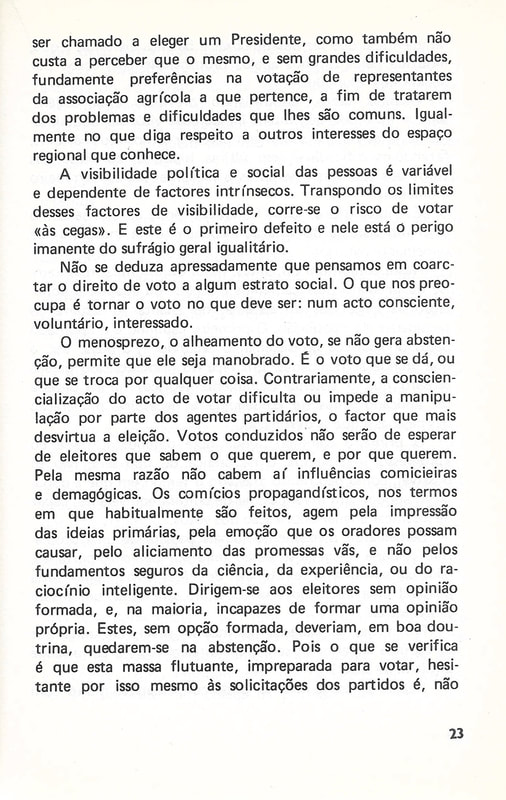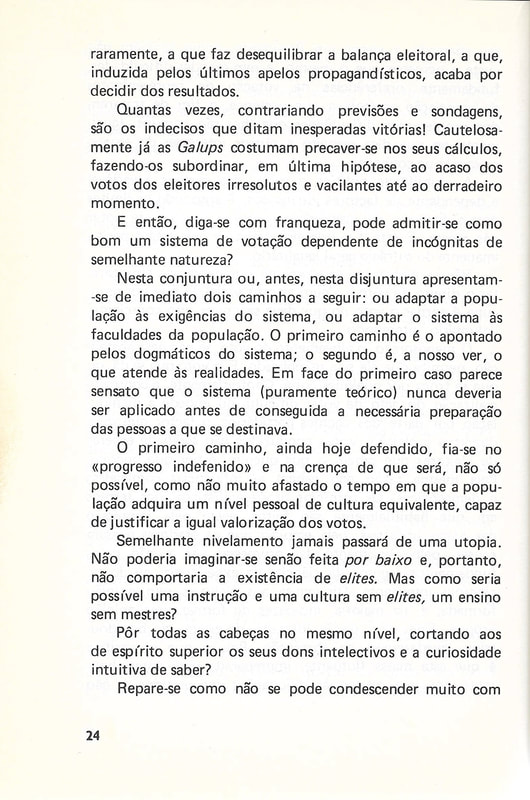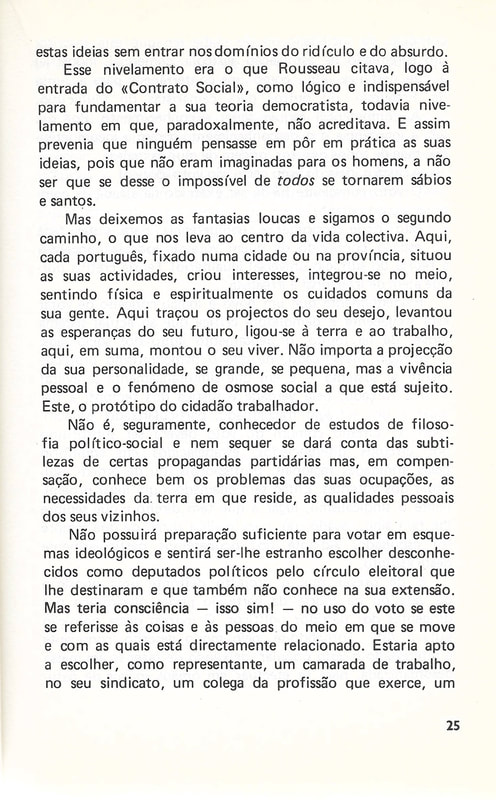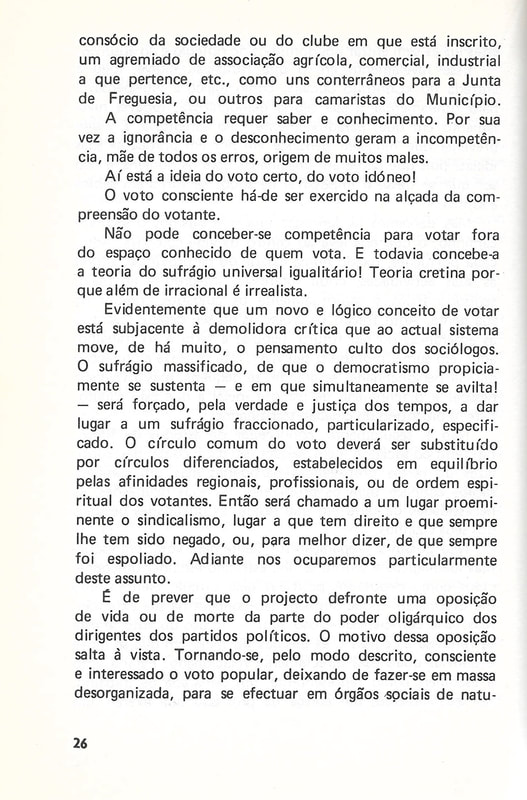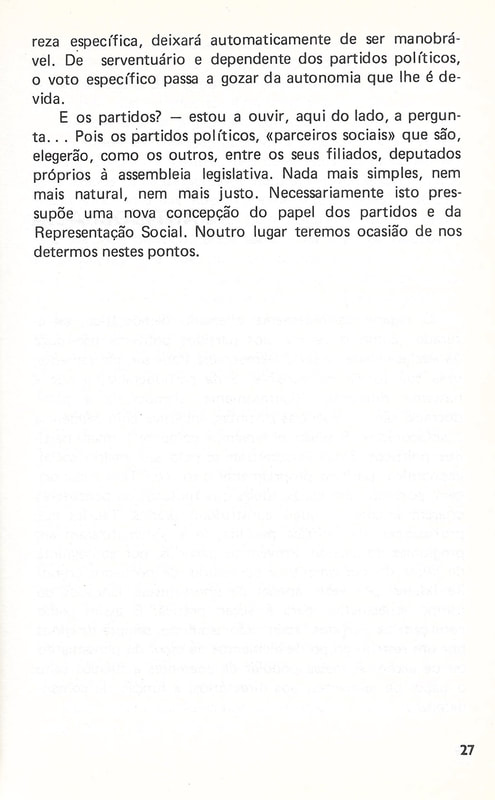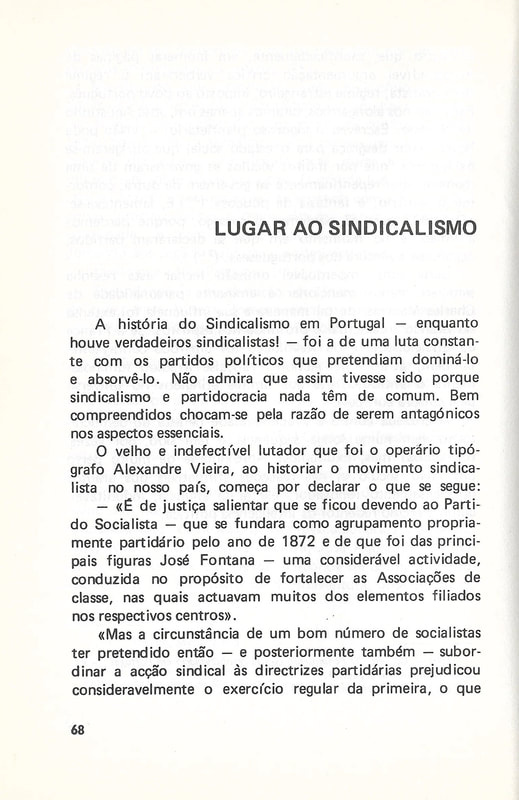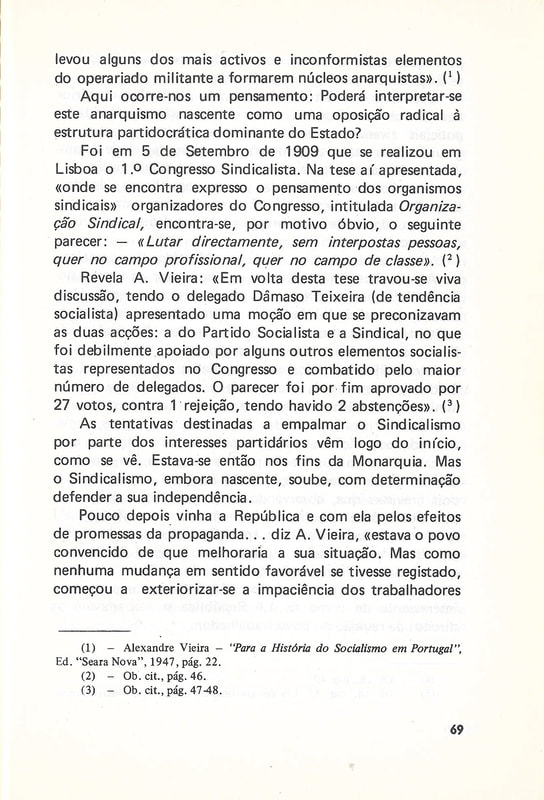Mário Saraiva - Outra Democracia - Uma Alternativa Nacional
Mário Saraiva, Outra Democracia - Uma Alternativa Nacional, Lisboa, Rei dos Livros, 1983.
... ressalta à evidência o absurdo, a irracionalidade, a fraude, de, a priori, se vincular a Democracia a um prefixado modelo de governo, um especificado regime. Não pode haver uma forma canónica de Democracia. A existência de autêntica democracia consiste em o povo escolher livremente a forma do seu governo e as pessoas dos seus governantes.
- Mário Saraiva
- Mário Saraiva
A decrépita democracia dos partidos políticos continua a ser, na inércia secular da sua forma primitiva, o ídolo apregoado por uns e por outros, como se consubstanciasse o grau mais elevado da perfeição atingível. Deplorável sintoma de debilidade mental! (p. 5)
Uma revisão constitucional profundamente diferente nos conceitos, revolucionária no sentido construtivo, adaptada ao modo de ser português, é uma exigência impreterível. (p. 6)
Sobre as cláusulas de destituição do chefe do Estado este repete o disposto na Constituição de 1976, isto é, que o Presidente somente perde o cargo por abandono voluntário do país ou em consequência de condenação por crimes praticados no exercício de funções.
Verifica-se que esta Constituição de 1982, tal como a anterior, não considera as hipóteses de incúria e de inabilidade, de nocivo procedimento, nem sequer a de doença mental declarada durante o mandato.
A omissão revela uma imprevidência grave, quanto mais não seja no ponto de vista da teoria democrática. (p. 7)
Verifica-se que esta Constituição de 1982, tal como a anterior, não considera as hipóteses de incúria e de inabilidade, de nocivo procedimento, nem sequer a de doença mental declarada durante o mandato.
A omissão revela uma imprevidência grave, quanto mais não seja no ponto de vista da teoria democrática. (p. 7)
Capítulo "Lugar ao Sindicalismo", p. 68 e seguintes.